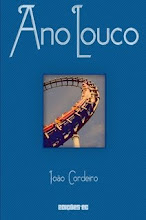Algo denso, escuro e peganhoso escorre nas paredes do meu quarto.
Acumula-se de baixo para cima, espessando as paredes que incham na direção uma
da outra. Senti ainda meio-anestesiado pela insónia da noite o calor da chuva…
Sentei-me na cama
asfixiado com o ar pesado que sentia entrar dentro de mim e me embaraçava a
respiração.
Levantei-me sem contar
os passos e o chão deixava-se pisar sem me arrefecer os pés. Sem uma brisa que
me arrepiasse a pele fina das costas.
Uma estrofe de “Velvet Morning” dos “The Verve” era audível do outro lado da janela.
Tentei estalar os ossos
do corpo abrindo os braços e a boca num vigoroso mas infrutífero bocejo.
“And
now I'm trying to tell you
About
my life
And
my tongue is twisted
And
more dead than alive
And
my feelings
They've
always been betrayed
And
I was born a little damaged man
And
look what they made”
A melodia zumbia-me nos
ouvidos. Tentei traduzir mas as palavras eram bem mais rápidas que meu
raciocínio. Apenas consegui reter que, “… E eu nasci um pequeno e estragado homem…”.
Pequeno não sou, avariado um pouco. Mas uma desarranjo que não tem
solução.
Deixem-me ser louco e sonhador. Enquanto sonho o meu sangue alimenta-se
o meu corpo cresce a minha mente vagueia por cantos nunca percorridos. Era
manhã.
Uma manhã de agosto
brotou num pranto compulsivo. Berrava lá fora, mas nem um sopro se sentia.
Não há cheiro que me
desnude como o da terra molhada num raiar de verão. Despe-me e dança-me na pele
em arabescos de sal que lá se esconde. Lamber-me-ia sem vergonha salgando os
lábios e a língua numa salmoura de enleio e desejo.
São estes pequenos momentos
de paz, enrolada na brisa que enalteço. São estes silêncios e músicas eternas
que me seduzem. É a meia-luz quente cá dentro e a luz azul meio extinta pela
janela que me enfeitiça.
Fecho as mãos antes que
a sensação se apague, que fuja para longe.
Fui até à janela e
encostei a testa no vidro azul-escuro de céu. Olhei fixamente as lágrimas que
choravam no vidro. Escorriam sem caminho definido porque o vento contrariava a
gravidade em andamentos musicais uivados, assobiados, fazendo dançar a água.
Nem na testa senti o frio daquela húmida manhã estival.
Encostei a bochecha,
depois o peito ainda arquejante na busca do ar fino. Nem no peito senti o
vidro. Mas chovia lá fora. Quis tocar no vidro choroso. Estendi os dedos e
acompanhei de modo demente o descer descompassado de uma gota gorda, que logo
se misturou com outra e me caiu no dedo. Não percebi se estava do lado de cá ou
se a minha mão teria trespassado o vidro. O que mais me incomodou foi não
sentir aquela gota. Certamente deveria ser fria, deveria ser molhada, mas se
não a visse cair no dedo que atravessara a janela, não a saberia caída na ponta
do dedo. Olhei-a mais de perto. Partículas minúsculas baloiçavam numa oscilação
imaginária. Uma mulher dormia quieta, coberta por um lençol branco.
Distinguia-se com a luz crua do sol matinal uma perna desnuda estendida. O
corpo pequeno, enrolado, cabelos espalhados na almofada e o subir e descer
ritmado de um sono franco. Era bonita, aquela mulher, porque e somente era
vulgar.
Vi a sua camisa
enrugar-se, ajustar-se-lhe ao contorno que era seu, com o peso da água. Vi-a
agitar-se no vento que lhe roubava os cabelos, como chicotes húmidos.
Fechei os olhos e ouvi o
segredar da tempestade.
Uma rajada de vento
sugou-a, arrancou-a da suspensão com uma sacudidela e desapareceu, como uma pequena
folha de árvore. Para sempre!
Eu desiludido e dormente
voltei a deitar-me. Não queria mais viver aquela manhã de chuva.
Desliguei o interruptor
do candeeiro e o botão da máquina que me mantinha a respirar.
Uns anos antes, ali, como quem desce o rio, duas ruas à esquerda, depois da
viela adormecida nas luzes de uma porta, contam-se três candeeiros depois do
início do quarteirão. Era perto do castelo dos touros. Munido de grades
fechadas, emolduradas de uma velha madeira castanha escura.
Ali, onde se espalham
quentes no gelo do ar os laranjas, os verdes e os brancos dos prédios e dos
seus recantos.
Ali onde a chuva pica na
cara de tão fresca e se abocanham os beiços húmidos para depois os deixar
cantar com a senhora de voz cansada mas com trinado certo num labirinto de
azulejos sujos da estação do metro.
Ali, onde os telhados
descobrem cortinas brancas e o recorte de mulheres nuas em contraluz como
sílabas afuniladas.
Ali, onde as sombras do
rio são nenúfares azuis que sabem a geleia de morango e riem com os sinos da sé.
Com os pés doridos mas
satisfeitos, chego perto das rochas esculpidas pela força das marés. Uma delas
assemelhava-se a um rosto triste.
Ali, certamente em
alguma poça, ela mergulhava o pente desdentado e alisava o cabelo à força de saliva.
Empurrava-o, prensava-o de mãos decididas para que no espelho de águas turvas e
folhas secas pudesse acreditava ser ali o seu lugar.
Com o ventre em náuseas
irrequietas ajustava a justa saia preta no caminho da igreja.
Benzia-se à entrada e
sentava-se na última fila de bancos corridos com medo de ser observada tal somo
sempre fizera na escola.
Quando se ajoelhava para
rezar os pecados que criara, espiava com o sobrolho franzido, as emoções sempre
iguais. Os ciumentos, os jocosos, os beatos, os orgulhosos, os divertidos, os
ansiosos, os enfastiados.
Ela mantinha-se à
distância de cheiros azedos e sussurros ininteligíveis. Falava consigo, à flor
da pele.
Esperava pelo branco que
lhe turvasse os olhos e os farrapos em cintilantes gotas de fantasia.
Os fantasmas chegavam,
um a um. Desfilavam pelo corredor de tapete vermelho. Ouvia a música de outras
vidas. Diluía-se no ritmo badalado no seu peito, inundado de recordações. Levantava
o pescoço e fechava com força os dedos nas tábuas gastas como quem pretende
agarrar-se à vida obsoleta e degasta.
Os seus passos já não
faziam eco no chão frio e desolado do altar. Seria ela um fantasma?
Na sua mente nada parecia
autêntico. Queria seguir o seu desejo, sem ambição. Colocava no rosto cansado,
um semblante nublado que só ela reconhecia entre a cal das paredes, os
santinhos do altar, os azulejos e os vitrais do teto. No seu desfile delicado
nem o soçobrar dos folhos murchos conseguia penetrar a redoma da sua verdade. Embrulhava-se
no véu de odor forte das velas, da cera derretida de tanta promessa, dos
pedidos e das vãs esperanças, que perscrutava de olhar indiferente.
As promessas já tinham
morrido e os infelizes ainda não sabiam.
Voltava a mirar a chama
que tremia das velas. A trepidação provocada pela quentura provocava-lhe um
desfalecimento das pernas. Sem pestanejar, para que nada pudesse escapar sentava-se
pudicamente de joelhos juntos e olhos brilhantes, atenta à homilia.
Sussurrava de cor as juras
lá do fundo de si. Eu a ti, tu a mim.
Pertenço-te e és meu.
Esmagava mais um pouco o
ramo morto na ansiedade do beijo, o beijo no vácuo. O mesmo vácuo das noites de
núpcias que lhe rasgava as veias em sonos ausentes. Depois o mutismo. De
soluços num silêncio esmagador, engolia de raiva o grito e um nome quando a
trovoada de sons e arroz a deixava em paz, os ecos abrandavam e as aleluias
cessavam.
Olhava por cima do ombro
e contava os anos não vividos. Tirava o lenço bordado da manga e limpava os
olhos.
Sim, porque uma noiva
não pode esborratar o rímel.