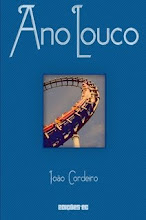Sabes, esta noite sonhei contigo, “Manela”. Entraste pelo meu sonho adentro sem eu te dizer nada. Sorrias e estavas bonita, como as últimas memórias que guardo de ti, a lembrança da miúda mais bonita da turma.
Devia ser verão, pois estavas com uma t-shirt pequenina que deixava perceber o biquíni, e sorrias como as flores coloridas que trazias por baixo.
Nesta noite falámos muito, contei-te as novidades todas, contaste as tuas novidades todas, falámos do tempo todo que passou, do teu curso inacabado e até falamos daquele concurso de misses em que entraste e ganhaste um prémio. Sorrias, bonita como sempre e como um filme que acaba passadas duas horas, naquela brevidade de tempo nocturno fomos felizes.
Desembrulho-me dos lençóis ternurentos e volto a ficar sozinho, dispo a roupa, (nunca gostei de pijamas, mas o frio irónico obriga a alterar as convicções) entro no duche e a água quente acorda-me para a brutalidade da manhã.
O microondas inteligente aquece o leite. Saio para a vida lá fora. Recebo um toque no telemóvel: “Cheguei. Estou à entrada, vem cá ter. Até já. Bjs.”
Cheguei à Fnac do Chiado e com um par de beijos seguidos de um café que aquece a tarde, quebrámos o gelo.
“Vem a minha casa. É bonita.” Dizes. “Vou oferecer-te qualquer coisa para a tornar ainda mais bonita!” Sorrio… só. Ficas sentada no sofá enquanto eu ponho um disco a tocar, música calma, uma escolha premeditada: tu gostas do piano de Bill Evans, eu coloco um disco de Bill Evans. “Sunday at the Village Vanguard”.
É domingo, não estamos em Nova Iorque nem num clube de jazz de uma zona fina da cidade, mas a tarde cai devagar e sabe bem.
Vais dizendo coisas variadas e mostras as compras acabadas de fazer: duas camisolas e roupa interior comprada na loja Women’s Secret.
Mostras-me como é o teu top e eu digo que não gosto das tuas compras, tu provocas-me dizendo que vestido fica muito melhor.
Não chegamos a confirmar a veracidade das tuas palavras, que fazes sempre acompanhar de um sorriso onde ocultas a possível maldade com uma dose de inocência verdadeira.
Sinto-me culpado desta amizade sexy e fico a pensar na improbabilidade de se ser fiel. Dizes que é tarde e tens de ir dormir, mas prometes, sem fazer figas, que me irás visitar em breve.
Saio à rua e o jornal triste não traz notícias sorridentes. Sento-me no café a observar as pessoas aceleradas que passam, um rapaz de cabelo grande tropeça e espalha livros e folhas pelo chão e a multidão segue apressada.
Demoro-me à mesa com a chávena vazia e mirar títulos cinzentos e penso em como morder a vida. Envio um SMS. Poucos minutos depois, o telemóvel nervoso avisa-me que vens.
Trouxeste o cabelo escondido, no rabo-de-cavalo do costume, a ocultar a magia toda que os cabelos soltos prometem. Naquela noite fomos o mundo todo.
Os copos de um vinho verde, Gatão, doce e suave como os teus lábios, amoleceram os corpos que se deixaram deslizar pela brandura quente da noite.
Comecei por ferver água para o chá e começaste por deixar transparecer dois centímetros da blusa à medida que me abrias a alma.
Fomos desejo ondulante guiado pelas músicas ternas ouvidas no Lamy, deixei a aparelhagem ligada toda a tarde e toda a noite, e mesmo deste lado do Oceano não se perdia nem uma tecla de emoção, as vidas destes desconhecidos tristes eram as mesmas.
Beijámo-nos demoradamente, acendeste um cigarro e adormecemos a pensar que foi bom.
Na manhã seguinte conseguiste ser mais fria que a pedra de gelo que arrefeceu o meu moscatel da noite anterior e foste embora sem fazer barulho.
Continuei perdido no mundo e não foste tu quem me salvou. Durante a noite sonhei com a “Manela”...
Acordei ainda com o sabor daqueles beijos, que me despertaram uma luxúria que não entendi.
Seria excelente que sonhasse todas as noites desta maneira, com mulheres bonitas, dóceis e sensuais.
Era mais que convincente que tinha dado início a uma fase da vida que me excitava e que de outra forma me trazia um sentimento de culpa que me ardia na alma.
Tinha pecado em sonho? Ou teria tido esta iniquidade acordado?
Em sonho ou acordado, tinha cometido um erro que por enquanto não era grave... mas, teria de admitir que os outros, também fugissem ao caminho rectilíneo da vida... nem que fosse igualmente em sonho.